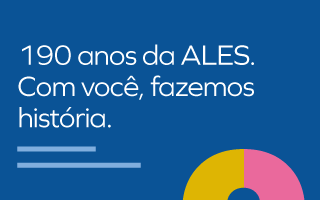“Até onde sabemos, somos a única espécie para qual o mundo parece ser feito de histórias”.
Essa é a primeira frase do livro O Leitor como Metáfora, de Alberto Manguel. Retorno ao autor e sua obra, pois já os citei em meus artigos e revisito um lugar muito querido da minha infância sempre que penso sobre essa frase. “A Leitura do mundo precede a leitura da palavra”, afirma Paulo Freire. Entender que eu poderia ler histórias e não só ouvir as que me eram contadas foi, para mim, a descoberta da autonomia. Liberdade para empregar meu ritmo, pausar e retornar à leitura quando eu escolhesse, para encontrar os personagens sempre a minha espera, a qualquer hora e em qualquer lugar. Eu fui uma criança ávida por livros, mas antes fui uma menina sedenta por ouvir histórias.
Jenny Rugeroni apresenta seu Céu de Estrelas Curiosas com a seguinte frase: “de onde vêm as lendas contadas pelos homens do campo?” E acrescenta: “as noites ao redor de uma fogueira, ouvindo essas histórias ao som de uma viola, marcaram minha infância e se tornaram parte da pessoa que eu sou hoje”. Foi neste instante que percebi que não conseguiria me distanciar daquelas páginas até que terminasse de ouvir seu relato completo. Sim, de ouvir. Há uma cadência nas linhas da autora, as idas e vindas no tempo, desenhando, aos poucos, os rostos dos personagens ora crianças, ora se aproximando da velhice, ora continuados em seus filhos e filhas. Será que Carol tinha o mesmo brilho nos olhos da mãe, quando se apaixonou pela primeira vez? Quanto do jovem Roberto se preservou no semblante do filho Fábio?
Acolher uma história é fazer-se parte imprescindível dela. É assumir-se o palco intangível do desenrolar das cenas. É entonar as perguntas e sustentar as reticências. É religar, dentro de nós, a chama ancestral que nos permitiu ser o quem, porque nos convidava a contar o como.

Retomando a pergunta inicial da autora, porém reformulada: onde começam as histórias contadas pelos homens e mulheres do campo, da cidade, de toda a parte? Até onde se estenderão essas linhas genealógicas e narrativas? É possível avistar um ponto final, ou apenas nos acostumamos a turvar a visão e embaçar a imagem tanto das possibilidades futuras, quanto da rememoração dos começos? Somos um ínterim e, por isso, as histórias que nos encantam e que escolhemos acompanhar também são. Imaginamos um início, vivemos alguns parágrafos e soltamos as linhas e as palavras para que outros as assumam e sigam adiante, desenhando a narrativa e a vida.
Ao terminar a história que foi narrada a Jenny, há mais de trinta anos, e que ela se dedicou a escrever e reescrever, durante todo esse tempo, fechei o livro e reli o título.
Aos olhos do céu, o mundo todo é uma pequena aldeia, povoada de pessoas que erram e acertam, que decidem ou se resignam e que seguem em frente com corações leves ou partidos, a cabeça erguida, certos de suas escolhas, ou os ombros pesados sob culpa ou remorso, o fardo de suas decisões.
Nos olhando de cima, postas nos melhores assentos do anfiteatro celeste, as estrelas talvez se debrucem sobre nossas cabeças. As mais curiosas, quem sabe, atiram-se cadentes, na tentativa de ouvir melhor nossas conversas. As mais longínquas e quase invisíveis, piscando em aceno mudo e de brilho distante, incansáveis observadoras daquilo que nos inventa ao ser, por cada um de nós, inventada: a vida é o que dela escolhemos contar.
Sobre o Livro
O romance conta a história de duas famílias que se entrelaça ao longo de várias gerações, entre 1946 e 1991. Ao longo dos capítulos, passado e presente vão se alternando como peças de um quebra-cabeças, mostrando a vida no interior de São Paulo ao longo das décadas.