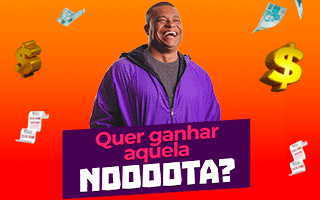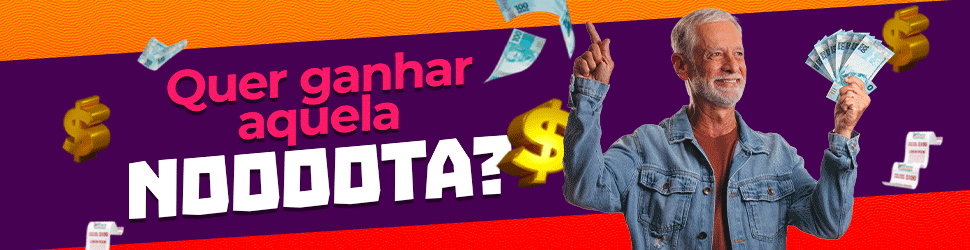Para a coluna dessa semana – quinta-feira, 22 de abril – pensei em escrever sobre vários filmes nacionais: alguns deles tinham algo relevante sobre nossa história, outros, a meu ver, poderiam nos ajudar a nos construirmos como brasileiros. Pensando sobre isso, escolhendo e refletindo, percebi uma coincidência irrelevante: que o “dia do índio” – 19 de abril – vem antes do dia do “descobrimento do Brasil” – 22 de abril. Nada mais justo, afinal, no princípio, eram os indígenas e, só muito tempo depois, veio o explorador. Porém, foi somente em 1943, durante o governo de Getúlio Vargas, que a data dedicada aos indígenas foi instaurada à partir de um Decreto-Lei. Ou seja: há somente 78 anos, por meio de uma lei, foi escolhido apenas um dia do ano para o “dia do índio”. E sob essa única palavra “índio”, acomodam-se cerca de 305 etnias indígenas diferentes.
O filme A Febre – 2019, disponível na Netflix – é falado em português e nas línguas indígenas tukano e tikuna. Existem 274 línguas indígenas que são faladas no Brasil atualmente, mas eu nunca tinha escutado nenhuma delas. São línguas faladas todos os dias, por milhares de pessoas, de norte a sul do país – mas que não emitem som.
Não temos ouvidos para ouvi-las. Assim como também não enxergamos os indígenas – porque construímos, todos os dias, um país, uma sociedade, uma história sobre essa invisibilidade.
Acompanhamos, durante o filme, a história de Justino e sua filha Vanessa – ambos indígenas que vivem e trabalham em Manaus. A floresta, como um pano de fundo de verde e breu, sempre à espreita. A memória mais profunda e interna de Justino – o coração da mata – nos é um absoluto temor, um planeta distante, uma ameaça absurda. Se, para Justino, a mata canta um chamado para o lar, para nós, não há lugar na natureza que aguarde o nosso retorno: estamos condenados ao concreto e desprovidos de raizes na terra e de lembranças ancestrais. O corpo de Justino adoece e se cansa – ele tem uma febre que não cessa. Quando olha para a chuva, aguça os ouvidos: como se ouvisse, vindo de longe, o chamado de sua aldeia. Na cidade, Justino vive à margem: trabalha muito, ganha pouco, vive precariamente, é apelidado de “índio”. Apesar de trabalhar desde criança, só teve a carteira de trabalho assinada há poucos anos. Não tem direito a quase nada.
Nos últimos anos, o desmatamento, a grilagem de terras, o garimpo ilegal, as queimadas, as construções de rodovias e tantos outros crimes ambientais que não sei mencionar, aumentaram muito no Brasil. Com a conivência daqueles que deveriam fiscalizar e punir – avança o agronegócio sobre as terras indígenas protegidas e sobre as reservas ambientais.
Cada vez menos mata, cada vez mais indígenas mortos: espero que os índios que vivem nas cidades tenham a oportunidade de, um dia, olharem para suas aldeias uma última vez, antes de desaparecerem. Espero que aqueles que se mantém firmes em suas terras possam olhar para cima e, à sombra das árvores, respirarem o ar que é sua casa.
E espero que os exploradores – os de 1500 até os dos dias de hoje – que não tenham a terra mãe, como tem os povos indígenas, que acolhe seus corpos e os reintegram ao ciclo da vida, os transformam na própria força que anima a natureza, mas que os usurpadores e assassinos tenham lama e dejetos lançados feito chumbo sobre seus ossos. Que não tenham paz, que não se cantem canções e que as raízes os empurrem fundo, cada vez mais fundo, para o escuro da terra, para a morte que vem depois da morte: a infâmia, o mau dizer, o escárnio e o cuspe vindo do futuro e da história.